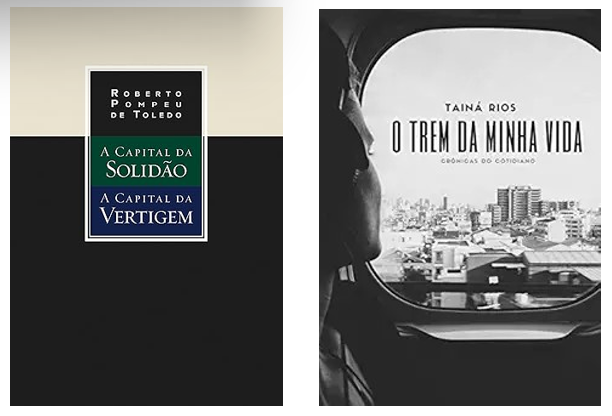Hoje quero falar de dois filmes, um brasileiro e outro inglês que se destacam por não ter como personagem principal o ator ou atriz, mas um objeto, uma “coisa”.
Filme 1
O primeiro é “São Paulo SA”, de Luís Sergio Person, rodado em 1965 mas cuja trama ocupa o final da década de ’50 e início da seguinte. O personagem “em carne e osso” chama-se Carlos e é vivido por um jovem Valmor Chagas. Carlos é um neurótico, um descontente estrutural desadaptado a tudo, suas mulheres e seu trabalho. Nada lhe serve, está sempre amuado sem razão aparente; enfim é bastante antipático.
O filme inteiro é dominado pela cidade de São Paulo, a verdadeira protagonista. É a São Paulo de 1960, que já preanunciava seu descomunal e intratável futuro, mas para seus 3,8 milhões de habitantes o gigantismo e seus males eram ignorados e pior, eram motivo de orgulho. As tomadas das avenidas já mostravam que o trânsito tendia ao entupimento, mas o automóvel era o sonho de consumo dos paulistanos, que se orgulhavam de a Volkswagen produzir “mil carros por dia”. Além de o transportar de um engarrafamento a outro, o automóvel conferia ao seu dono a aura de ‘rico’, pois era caríssimo. Se a classe média alta andava de Fusca ou Gordini, os realmente ricos rodavam em carros importados ou Simca Chambord ou JK, este reservado para os mais descolados e endinheirados pois custava o equivalente a 150 salários mínimos. A população pedestre devia ser numerosíssima, visto a quantidade de ônibus nas ruas; carrocerias quadradas montados sobre chassis de caminhão, cujos altos estribos estavam fora do alcance de idosos, senhoras e senhorinhas de saia apertada ou curta. A poluição – que hoje finalmente está sendo levada a sério, pelo menos no discurso dos entendidos – ainda não estava no horizonte dos paulistanos a julgar pela fumaça expelida pelos ônibus. Bem ao contrário, o lema da época era: “São Paulo não pode parar”, que reduzia ao silêncio a incipiente conscientização dos efeitos colaterais do crescimento descontrolado.

No centro da cidade, a guerra não declarada entre pedestres e automóveis
Carlos arranja um emprego na Volkswagen e depois na fábrica de autopeças do simpaticíssimo Arturo, cujo otimismo, iniciativa (aliada a uma boa dose de malandragem que tangencia a desonestidade) e bom humor contrastam com a irritante apatia de Carlos.
Muitas são as tomadas internas da fábrica da Volkswagen e da autopeças do Arturo. São mostradas linhas de montagem, tornos e fresas em operação – admiráveis máquinas, ícones da modernidade e portadoras de progresso. Nisso o filme retrata um tempo ainda dominado pela filosofia futurista, com sua obsessão pela velocidade, coragem, masculinidade, dinamismo, forças materiais e modernidade. Para mim que assisti ao filme sob a ótica histórica o ponto culminante é quando Arturo leva Carlos a um passeio pela Via Anchieta em seu Oldsmobile, na época um carro com carga de ostentação só inferior ao Cadillac. Vemos a Anchieta ladeada de fábricas novinhas, pintadas num branco tão imaculado que doe aos olhos. Arturo vai magnificando o que se descortina do carro e com um misto de pragmatismo e ingênuo otimismo repete que aquele é o futuro do Brasil – a Indústria – a ciência aplicada à tecnologia.

Linha de montagem da Volkswagen – os robôs ainda estão no futuro
São Paulo aparece na tela com tudo o que prometia: industrialização nascente e triunfante, o centro fervilhando de pessoas e automóveis, a agitada vida noturna. Parecia ser tempo em que ganhar dinheiro estava aberto a todos que se arriscassem na constelação de empresas e empresinhas que acompanhavam o boom da Indústria automobilística.
Hoje as fábricas da via Anchieta e de outras rodovias estão negras de fuligem, vidros quebrados e telhado desabado, grama crescendo nos pátios. A industrialização glorificada pelo Arturo resultou em nada, que hoje o mercado financeiro é muito mais conveniente para fazer dinheiro do que tocar uma fábrica. Ainda, o automóvel tornou-se um vício do qual não conseguimos nos desvencilhar; queremos voltar à bicicleta e nos faz muita falta andar a pé. A poluição mostrou consequências impensáveis desde o tempo em que era índice de progresso, e imaginava-se que um sopro de vento bastasse para afastar os gases formadores do efeito estufa. O choque entre o sonho de 1960 e a realidade de 2040 é o que impacta o espectador, que do filme não guarda as peripécias do pálido, medíocre, nunca contente e mal humorado Carlos e suas complicadas três mulheres, mas guarda imagens do São Paulo de ontem, ainda ignaro de seu irrealizado futuro.
Filme 2
O segundo filme não está na Netflix como o São Paulo SA, mas pode ser assistido no YouTube. Passa-se na Inglaterra logo após a segunda guerra; tempos difíceis e cinzentos como a atmosfera e as cores do filme, que raramente mostra um dia de sol. É dirigido pelo famoso David Lean e conta uma história bem simples: ela e ele se encontram no bar de uma pequena estação ferroviária, se apaixonam, e lá mesmo se desencontram. Pouco original, mas lembremos que o mundo é composto primordialmente por gente comum, vivendo acontecimentos comuns que podem ser contados em duas linhas. Nisso o filme tem muito de Checov que aparentemente escreve histórias banais, mas o que realmente retrata não são casos específicos; sua visão de vida é muito mais vasta, pois não se limita à superfície mas atinge a atividade que se desenrola no interior das personagens. E a propósito do autor russo, devemos notar que Desencanto (o nome do filme, que no original é o bem escolhido Brief Encounter- Breve Encontro) é muito parecido com A Dama do Cachorrinho, um dos mais conhecidos e melhores contos de Checov. Mas a semelhança não diminui Desencanto, que é um filme excelente em tudo, não só na trama.
Os personagens “humanos” são: Laura, casada com um Fred algo inexpressivo mas bom e compreensivo, ou seja não há trincas irreparáveis nesse casamento, apenas tédio. Ele é Alec, médico idealista (de novo! – como os personagens de Checov), casado, mas é só o que sabemos de seus arranjos familiares. Alec trabalha no hospital da cidade X e mora em outra. Laura também mora em outra cidadezinha; normalmente vai a X para compras e cinema, mas depois para encontrar Alec.
O centro do filme é a pequena estação de X, que também introduz o personagem principal: o trem, especialmente a grande locomotiva a vapor, a cabeça e líder da composição, um ser de ferro e fogo que parece ter vida, com todos seus componentes à mostra e em movimento: bielas, cilindros, reguladores de pressão, a nuvem de vapor que sempre o acompanha e seu longo e melancólico apito. No decorrer do filme é o trem que regula os encontros e adeuses dos dois protagonistas humanos, cujas vidas parecem ser regidas pelo horário ferroviário.

Locomotiva à espera do engate dos vagões
O trem protagoniza a maioria das cenas do filme. É esperado no café da pequena estação, frente a indefectíveis e mui britânicas xicaras de chá, mas não é desejado porque sua chegada significa que Laura tomará seu trem e Alec o seu. Não há o açucarado happy end dos filmes americanos: tal como Dmitri e Anna do conto de Checov, Laura e Alec não tem forças para romper seus respectivos compromissos e o caso termina onde começou: no café da estação. Se os amantes russos ainda buscavam ansiosamente o modo de se livrar da necessidade de se esconder, de enganar, de viver em cidades diferentes, de ficar muito tempo sem se ver, Laura e Alec desistem um do outro e fazem sua última viagem, em direções opostas.
Desencanto recria com perfeição a atmosfera britânica do imediato pós-guerra, quando uma densa malha ferroviária unia cidades e vilarejos e a cultura do trem superava de longe a do automóvel, expressão do individualismo que virá.